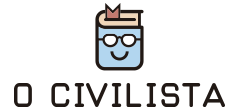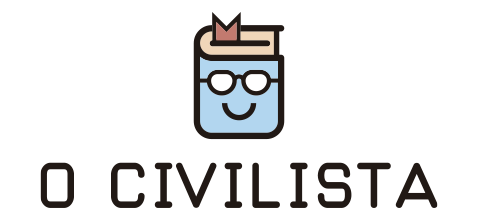Nazareno Reis
A “responsabilidade civil”, grosso modo, trata da seguinte questão: ocorrido um dano, quem deve pagar por ele? A resposta óbvia para a mentalidade liberal individualista, que prevalece no Ocidente desde Roma, é simples: o indivíduo que “causou” o dano deve responder por ele.
Só que às vezes é difícil saber se (1) há dano e, outras vezes, (2) quem, afinal de contas, o causou.
Pense num torcedor fanático por futebol, que investe em passagens, hospedagem, ingressos e tudo mais necessário para ver uma final de campeonato. Suponha que ele acabe testemunhando o seu time ser derrotado em campo. Há “dano” aí? Parece que sim, tanto em termos de prejuízos econômicos (os gastos com a viagem), como “morais” (a derrota, sem dúvida, é dolorosa para o torcedor). Mas se pode argumentar, por outro lado, que não há “dano” porque a derrota faz parte do jogo de futebol; é lícito tanto perder quanto ganhar.
A objeção procede. Geralmente, só ocorre “dano” se a conduta do “causador” for desalinhada do que é “certo”, do que é “direito”. Não por acaso, os americanos usam a palavra tort para se referir à responsabilidade civil que nasce das regras legais. Essa palavra provém do latim, pelo francês antigo, e quer dizer, na origem, torto. Ou seja, é preciso uma conduta tortuosa para gerar dano em sentido jurídico.
Essa é a visão que naturalmente prevalece nos diversos sistemas jurídicos ocidentais, embora não se possa dizer que ela seja a única possível. Em última análise, o reconhecimento de algo como “danoso” decorre de opções políticas de cada sociedade em cada momento histórico sobre o “direito” e o “torto”.
Para não ir muito longe, basta pensar que até relativamente pouco tempo atrás o bullying era considerado brincadeira adolescente; hoje ele é visto como uma conduta danosa. O contexto cultural mudou e, com ele, a ideia do que é danoso e até as leis que disciplinam isso. Os exemplos poderiam ser multiplicados. Há muitas condutas que foram toleradas como normais e hoje não são mais e, em todas elas, a raiz da mudança do tratamento jurídico proveio da alteração na percepção social de certos fenômenos e na correspondente nova resposta jurídica.
Volto ao outro ponto, o (2). Não raras vezes é difícil saber quem “causou” afinal certo resultado danoso. Essa dúvida cresce sobretudo em ambientes de maior complexidade. Um exemplo pode ser tirado da história: à medida que os meios de transporte se desenvolveram, eles se tornaram mais rápidos e mais massificados; os acidentes ficaram, por essa razão, mais danosos a cada vez que ocorriam. A ideia de os motoristas, simples funcionários de toda a engrenagem da Indústria do Transporte, serem civilmente responsabilizados pelos acidentes, ficou progressivamente menos razoável e economicamente mais sem sentido, porque: primeiro, eles estavam dirigindo a mando e por conta de uma empresa, e não em seu proveito próprio; segundo, os veículos trafegavam por tanto tempo e tantas vezes que as probabilidades de acidente tornavam quase certo algum evento em algum momento; terceiro, os motoristas presumivelmente não tinham capacidade financeira para responder pelo dano perante as vítimas.
Esse é o contexto em que nasce toda responsabilidade dita “objetiva”: ela é sempre a consequência do aumento da complexidade das relações sociais, a ponto de desvanecer os papeis clássicos dos envolvidos na situação que gera danos.
Então, a questão da causalidade, do ponto de vista jurídico, não é, como se poderia cogitar, algo estritamente físico. Há escolhas políticas que fazem com que se considere certa pessoa como “causadora” de um dano. (Falo aqui do ponto de vista do cível. No direito penal a liberdade do legislador é menor; a causalidade puramente normativa não pode chegar ao ponto de criar responsabilidade penal objetiva.)
Pensei sobre isso ao ler recente notícia sobre sentença da juíza federal Yvonne Gonzalez Rogers[1], de Oakland, Califórnia, que rejeitou as acusações de que Mark Zuckerberg, o chefe da Meta, estaria dirigindo esforços nas suas empresas para esconder das crianças os sérios riscos à saúde mental do uso do Facebook e do Instagram.
A juíza considerou que não há fatos concretos sobre o que Zuckerberg estaria fazendo de errado, e disse que “o controle da atividade corporativa por si só é insuficiente” para estabelecer a responsabilidade.
A sentença não decidiu as reivindicações dirigidas contra a própria Meta, mas apenas contra o seu controlador. Logo, não é exato dizer que o conglomerado de redes sociais foi absolvido de qualquer responsabilidade.
A juíza apenas entendeu que não seria o caso de punir o “dono” da Meta, o que está de acordo com o princípio básico de que as empresas se distinguem dos seus donos (“societas distat a singulis”). Mas permanece em aberto ainda a questão de saber se as empresas controladoras de redes sociais podem ser responsabilizadas civilmente pelos danos aos que se tornem morbidamente viciados (adictos) em usar tais redes.
A questão do vício é um tema elusivo quando se trata de definir a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo seu entranhamento na mente do viciado. Quem não lembra das ações contra a Indústria do Tabaco nos anos 1990? A princípio, parecia estranho responsabilizar aquelas empresas por vícios de pessoas maiores e capazes, presumivelmente no gozo de suas faculdades mentais e livres para fazer escolhas. Mas tudo isso, como disse, é uma questão de contexto ético-político de cada momento e lugar. Percebeu-se, ali no final do século XX, que o vício em cigarro, longe de ser resultado apenas de escolhas do viciado, era um fato que decorria, em um primeiro momento, da publicidade sutil que as empresas faziam no cinema, na TV e em outras mídias a que os jovens tinham acesso, e, em um segundo momento, da dependência química que a nicotina gerava. Nesse contexto apelativo, uma pálida liberdade de escolha do viciado havia exercido algum papel bastante secundário.
A questão chegou aos tribunais americanos e, ao final, foi assinado por vários estados e pelas principais empresas do ramo dos cigarros o famoso Master Settlement Agreement (MSA), que impôs uma série de restrições à publicidade de cigarros e obrigou as empresas do ramo a pagarem pesadas indenizações, a serem empregadas no tratamento de viciados.
Há quem defenda que estamos em uma posição histórica semelhante em relação às redes sociais (aqui uma opinião importante: https://www.nytimes.com/2024/06/17/opinion/social-media-health-warning.html). Muita gente está viciada, isso é um fato incontestável e que tem tido consequências negativas principalmente para crianças e adolescentes[2]. Ou seja, o dano existe.
Voltamos então à questão sobre quem o causou. A primeira e mais natural tendência é considerarmos que apenas o “viciado” deve ser considerado culpado, já que ele poderia simplesmente não entrar na rede social, ou usá-la de forma moderada. E se ele é culpado e vítima ao mesmo tempo, não se pode falar em responsabilidade jurídica de terceiro.
Porém, quando olhamos mais detidamente para o design das redes sociais, para o poder de manipulação que elas têm, é possível, sim, vermos elementos para atribuir às empresas controladoras (não digo os “donos”, mas as pessoas jurídicas) senão o dever de indenizar os danos causados aos viciados, neste primeiro momento, pelo menos o dever de reformular toda essa cadeia produtiva, para que ela não fique centrada per fas et per nefas no processo de captura e fidelização da atenção do usuário.
De fato, as redes sociais são experimentos com grandes impactos psicológicos sobre a população. E a sua arquitetura está longe de ser casual. Tudo ali é cuidadosamente pensado para reter a atenção do usuário persistentemente, pelo máximo de tempo possível — até porque é dessa atenção que promanam os lucros tanto das redes sociais como dos inúmeros negócios que as orbitam.
Ora, todo vício nada mais é do que o confinamento do indivíduo em um loop de recompensas aleatórias do qual ele não consegue se desvencilhar, por mais que tente. E é justamente a ideia de “segurar o usuário” que está na base da rolagem infinita e de outras técnicas de hooking que as redes sociais estimulam amplamente, tais como “primeiros segundos impactantes”, “títulos chamativos”, “promessas de recompensas extraordinárias” e “imagens atraentes”.
Esses elementos, que prometem sempre uma novidade ou satisfação, ativam no usuário o mesmo mecanismo de expectativa e recompensa encontrado em vícios mais tradicionais. Tudo isso lembra muito os velhos comerciais de cigarros, que também se apoiavam em estímulos emocionais e sensoriais cuidadosamente semeados para criar dependência psicológica — uma sensação de que algo essencial estaria sendo perdido se o cigarro (ou, agora, a próxima rolagem) for deixado de lado.
Tal sensação tem sido designada pelo acrônimo FOMO, que se refere a Fear of Missing Out, ou “medo de estar perdendo algo” em português. Essa expressão descreve a ansiedade ou receio de que uma oportunidade, experiência ou informação importante possa estar sendo deixada de lado enquanto a pessoa não está conectada ou não participa de determinado evento ou discussão. Nas redes sociais o FOMO é uma matéria abundante.
Bem, mas se pode argumentar, com razão, que as redes sociais, diferentemente dos cigarros, promovem também muitas coisas positivas, que não viciam no mau sentido. Claro, isso é verdade. E é por isso mesmo que a questão do vício mórbido nessas redes deve ser pensada em termos estruturais, e não em termos de responsabilidade civil subjetiva, caso a caso — embora esta não possa ser completamente excluída, porque a vida oferece muitas situações surpreendentes.
Um primeiro passo importante seria uma regulamentação que obrigasse as redes sociais a adotar um design mais equilibrado, em que a retenção do usuário não fosse o único valor em jogo.
Outro ponto a se considerar seria que as crianças e adolescentes, que por sua condição de pessoas em desenvolvimento, são mais vulneráveis ao vício, não poderiam ter acesso livre e ilimitado a tais redes, antes de certa idade mínima. É preciso que existam limites etários e de conteúdo. Obviamente o legislador pode e deve estipular esses limites, mas enquanto não há lei, não me parece despropositado pensar em responsabilização civil pelo fato do serviço, conforme o CDC.
Diversos países têm implementado medidas para restringir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, visando proteger a saúde mental e o bem-estar dos jovens.
O governo australiano anunciou planos para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. O primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que a medida busca afastar as crianças dos dispositivos e incentivá-las a participarem de atividades físicas e sociais. A idade mínima para acesso às plataformas está sendo considerada entre 14 e 16 anos, e testes de verificação de idade estão previstos antes da implementação da lei[3].
Nos Estados Unidos, o estado de Utah tornou-se o primeiro a exigir que redes sociais obtenham consentimento dos pais para que menores de 18 anos utilizem suas plataformas. A legislação também concede aos pais acesso total às contas online de seus filhos, incluindo postagens e mensagens privadas[4].
O governo norueguês está considerando aumentar a idade mínima para uso de redes sociais de 13 para 15 anos. Uma das propostas em análise é a exigência de uma conta bancária para verificação de idade, dificultando que crianças contornem as restrições[5].
O parlamento britânico debateu um projeto de lei que visa a restringir o acesso de menores de 18 anos a conteúdos potencialmente prejudiciais nas redes sociais. A proposta inclui a criminalização de encorajamento a autolesão ou suicídio entre jovens[6].
Enfim, há muitas iniciativas mundo afora para criar padrões mais rígidos para o uso de redes sociais, notadamente por crianças e adolescentes. A questão do vício em telas é séria e ameaça vários direitos fundamentais (em casos extremos, até mesmo o direito à vida).
A ideia de tratar isso como tema de responsabilização civil (objetiva, em princípio) faz sentido numa primeira abordagem, ao menos como incentivo econômico para tirar as Big Techs da cômoda inércia em que se encontram.
Mas o problema é bem mais amplo e necessita de medidas regulamentadoras sobre todo o ecossistema dessas redes, de modo a estancar a “corrida de ratos” em que o seu uso se transformou para algumas pessoas.
Por fim, respondendo à pergunta do título: atualmente toda sociedade está pagando difusamente pelos danos causados aos viciados em redes sociais. Medidas razoáveis de contenção de danos e de redistribuição dos ônus, portanto, devem ser tomadas pelos legisladores. A reconfiguração da responsabilidade civil nessa área em particular é apenas uma dessas medidas e apresenta muitas alternativas interessantes para serem implementadas, preferencialmente a partir de modelo estipulado pelos legisladores.
[1] Mark Zuckerberg not liable in lawsuits over social media harm to children
[2] 1 em cada 4 adolescentes brasileiros é viciado em Internet, aponta estudo
[3] Austrália planeja proibir uso de redes sociais por crianças e adolescentes | Tecnologia | G1
[4] Estado americano de Utah limita acesso de adolesce… | VEJA
[5] Este país quer exigir conta bancária para limitar crianças nas redes
[6] Lei nos EUA quer barrar livre acesso de adolescentes a redes sociais; devemos fazer o mesmo? | Exame