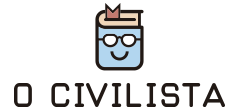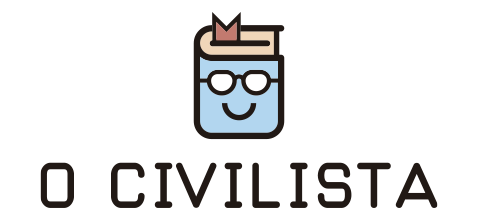_____________________________________________________________________________________
Yuri Brito Santos
Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia
Sócio em Candal, Grüssner e Brito Advogados Associados
Advogado voluntário na Associação Dr. Cosme de Farias
- INTRODUÇÃO
A legítima é, provavelmente, um dos institutos jurídicos mais criticados no ordenamento legal brasileiro. As críticas, que, em geral, apontam para uma correta necessidade de garantia da autonomia dos indivíduos em contraponto a um dirigismo estatal, contudo, precisam ser consideradas diante de outros aspectos – não só jurídicos, mas sociais e históricos –, que envolvem a complicada seara do direito sucessório e seus impactos nas relações familiares.
Dessa forma, o presente artigo busca, inicialmente, sedimentar compreensões básicas acerca do instituto da legítima e, em seguida, apontar os dois lados em torno da problemática, cujo tema legou respeitáveis opiniões doutrinárias. Após isso, se fará uma imersão no conflito entre princípios intrínseco ao tema – o direito de propriedade e o dever de solidariedade familiar – para, à luz da Constituição Federal, compreender se há ou não inconstitucionalidade na previsão legal desse instituto ou se, eventualmente, está-se diante de um modelo anacrônico, cuja revogação convém aos tempos atuais.
2. LEGÍTIMA
Segundo lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, a legislação brasileira adota o “Sistema de Divisão Necessária”, pelo qual o autor da herança goza de uma disponibilidade relativa em relação aos seus bens[1]: há uma limitação ao poder de disposição do sujeito, tanto na extensão de seu testamento, como para doações que ultrapassem a quota da legítima, configurando-se como doações inoficiosas[2].
2.1 CONCEITO E PREVISÃO LEGAL
A sucessão legítima é uma modalidade de transmissão causa mortis de bens que ocorre quando para esses não houver previsão testamentária – ou ter esta caducado ou sido julgada nula (art. 1.788 do Código Civil).
A legítima, em si, é considerada como uma reserva imposta por lei ao sujeito para que não disponha de mais da metade de sua herança se houver herdeiros necessários (art. 1.789 do Código Civil). Dessa forma, a legítima não pode ser incluída no testamento (art. 1.857, §1º, do Código Civil).
Essa quota é calculada a partir do valor dos bens que houver no momento da abertura da sucessão, após abatimento de dívidas e despesa de funeral (art. 1.847 do Código Civil).
Acerca de sua origem histórica,
parece não haver suficiente elaboração de fatos e de evidências sociológicas que determinem a origem precisa e irrefutável do que viria a ser denominado de legítima sucessória. Sua gênese jurídica é, portanto, altamente embaçada.[3]
É certo dizer, contudo, que esse instituto tem presença famigerada nos ordenamentos jurídicos de vários países e ao longo de vários séculos: “a grande maioria dos povos ligados ao direito romano-germânico mantém uma quota hereditária destinada à transmissão obrigatória a determinados herdeiros.”[4].
2.2 CRÍTICA DOUTRINÁRIA AO INSTITUTO
Mesmo possuidor de alguma estabilidade em meio aos sistemas jurídicos aproximados, o instituto da legítima foi e continua sendo alvo de diversas críticas, inclusive através de respeitáveis nomes da órbita jurídica e acadêmica, que fomentam a discussão ora posta.
Para uma correta avaliação da questão, é preciso ponderar os argumentos aduzidos pelos dois lados do debate. Mário Luiz Delgado, em artigo publicado no Consultor Jurídico (ConJur), indagou o seguinte:
Em tempos de afetos líquidos, de vínculos fluidos e de instituições familiares rarefeitas pela informalidade e pelo descompromisso, ampliar a liberdade testamentária não incentivaria mais uma solidariedade familiar autêntica, fundada no afeto em direção a uma herança conquistada em substituição a uma transmissão hereditária forçada?[5]
A provocação é interessante, sobretudo por não se limitar a uma análise estritamente legal, jurídica, mas abarcar o que seria a motivação do próprio instituto, o caráter subjetivo envolvendo a discussão acerca dessa reserva dos bens do de cujus. A pergunta nos leva a uma reflexão pertinente: se a legítima visa resguardar um dever de solidariedade familiar, não seria mais adequado que se fizesse pelo desígnio do autor da sucessão e não por imposição legal?
Mais incisiva na sua crítica, Renata Marques Lima Dantas diz o seguinte:
As faculdades de usar, gozar, reivindicar e dispor são próprias do direito de propriedade e a sua relativização está relacionada com a necessidade de se atribuir uma função social e orientar as condutas pela boa-fé, entretanto, em limitar tal direito ao necessário repasse de 50% a herdeiros necessários não revela nenhuma função social. Ao contrário, viola o exercício do direito de propriedade.[6]
Nessa veemente exortação à defesa do direito constitucional à propriedade (art. 5º, caput e inciso XXII da CRFB/88), que é princípio da ordem econômica (art. 170, II, da CRFB/88), a doutrinadora eleva o patamar do embate, propiciando-nos a consideração da hipótese de ser a previsão legal à legítima até mesmo uma violação àquela garantia de nossa carta maior.
Esse conflito entre o direito de propriedade e o resguardo à solidariedade familiar será debatido adiante. Por ora, é interessante observar o apontamento da jurista – uma espécie de réplica precavida a eventuais discordâncias de sua tese –, sobre o outro valor em disputa na discussão colocada:
Atenta-se ainda, aproveitando-se para refutar o argumento de que a legítima implica em garantia da solidariedade (…), pela legislação brasileira é concebível que um particular resolva usar todo seu patrimônio em bens fúteis, sem nenhum caráter altruísta, todavia, é-lhe vedado, se tiver herdeiros necessários, doar ou dispor por testamento de todo o seu patrimônio para pessoas necessitadas, imbuído de um cunho solidário.[7]
A incoerência apontada é relevante, apesar de talvez se basear numa linha de argumentação criticável. É que o fato de o legislador, na busca pelo resguardo do dever de solidariedade familiar ou de qualquer outra obrigação atribuída ao cidadão, ter criado alguma lacuna ou deixando de coibir certa conduta, não torna o regramento existente esdrúxulo, apenas aponta uma possível falha na produção das leis.
O fato de o legislador brasileiro ter deixado de criminalizar a homofobia, por exemplo, não torna a tipificação do racismo, outra discriminação odienta e danosa, uma incoerência.
Da mesma forma, a exemplificação casuística ao final do trecho parece estressar o raciocínio: de fato, é possível que alguém, na melhor das intenções, queira testar todo seu patrimônio para pessoas necessitadas; mas isso, não sendo comum, talvez seja mais raro do que uma motivação oposta, de desfazimento fútil dos bens por alienação ou mesmo egoísmo.
- A REVOLTA DOS DESERDADOS
Para abordar outro aspecto dessa discussão atinente ao âmbito do direito civil, restará mencionar um reconhecido nome do direito penal, menos pelo conteúdo de seus escritos e mais pela sua própria biografia.
Cesare Bonesana – o marquês de Beccaria –, conhecido nos cursos de direito como autor da obra “Dos delitos e das penas”[8], foi, para além de um pensador iluminista que elaborou duras críticas ao sistema penal então vigente,[9] um resultado de sua história de vida: ao casar-se com Teresa di Blasco, que pertencia a uma classe inferior à sua aristocrática família, o pensador desafiou a autoridade de seu pai, o qual, por isso, conseguiu promover a prisão do filho numa masmorra.[10]
Como se sabe de sua reconhecida obra, o intelectual saiu do cárcere disposto a empenhar-se contra o modelo de pena existente até então e, dentre outras pautas, criticar o controle parental sobre as liberdades dos indivíduos: em contraponto ao que chamou de “república de famílias”, onde “os filhos permanecem sob o pátrio poder do chefe, enquanto este vive, e são obrigados a esperar-lhe a morte para ter existência que dependa somente das leis”[11], defendeu um regime oposto:
Quando a república é de homens, a família não é subordinação de comando, mas de contrato, e os filhos, quando a idade os liberta da dependência natural (…), se tornam livres membros da cidade[12]
Desde pelo menos o século XVIII, portanto, já há obra bastante difundida onde se discutia a questão do poder patriarcal, sobretudo no seu caráter alienante, castrador das liberdades daqueles que a ele eram submetidos. Beccaria, filho de um chefe familiar tradicional, sofreu isso na pele e empenhou seu intelecto contra essa forma de relação familiar.
Mesmo tratando-se de uma história decorrida em outro tipo de sociedade, a referência é prodigiosa no sentido de fazer-nos atentar que o impacto da manutenção dessas formas de controle parental pode ser danosa para a sociedade como um todo.
Ao permitir que o autor da herança disponha livremente de seu patrimônio, torna-se possível que um sujeito praticamente deserde um descendente, já que poderá impedi-lo, por qualquer ou nenhum motivo, de ser agraciado com seu legado.
Isso, como se sabe, sobretudo num contexto em que as gerações vindouras encontram cada vez menos possibilidades de construir carreiras sólidas como a de seus pais, potencializa o controle de uma geração sobre a outra. Imagine-se, como exemplo, o caso de uma pessoa que obriga os filhos a cursarem um determinando curso, seguirem uma carreira específica, ou mesmo aderir a uma crença religiosa, a contragosto dos próprios, sob pena de exclusão do testamento.
A dificuldade de se conquistar independência econômica por aqueles que ingressam no mercado de trabalho agora[13] propicia a submissão aos interesses daqueles que já têm patrimônio consolidado. Assim, se permitido a estes que possam negar qualquer herança a um ou todos os descendentes, o que pode se estar potencializando é justamente uma efetiva submissão intergeracional.
Dessa forma, ao invés de se estimular o que seria “uma solidariedade familiar autêntica, fundada no afeto”, se estará fomentando a alienação e, sobretudo, a dissimulação daqueles que, para não perderem o privilégio do legado, curvam-se aos desígnios dos geradores ou performam o comportamento por aqueles esperado tão somente para obter uma vantagem após a morde de seu ascendente.
Pior ainda, um cenário como esse, propiciador de conflitos, abriga, ainda, a possibilidade de aguçar maus sentimentos, como a inveja, o ciúmes – alguns dos sete pecados capitais e que, ilustrados no conto bíblico, levaram ao fratricídio de Abel por Caim –, bem como a cobiça, a qual, é sabido, leva até mesmo a dramáticos episódios de crimes dentro de famílias.
Pondere-se, também, que, em muitos casos, a atuação dos filhos nas tarefas domésticas ou até mesmo em trabalhos relacionados ao meio de remuneração do autor da herança configuram-se como empenhos relevantíssimos, mas que, muitas vezes, não são quantificados ou remunerados. Até mesmo por casos como esses é que a proteção de alguma parte do quinhão hereditário aos membros da família nuclear se revela justa.
Nas artes, como literatura e cinema, bem como, fatidicamente, no noticiário policial, não são raras as narrativas de irmãos que matam uns aos outros na disputa pela herança, ou mesmo daqueles que unem-se para deflagrar o falecimento do genitor em busca do patrimônio que de outro modo não lhes seria concedido.
Assim, é preciso considerar a possibilidade de ocorrência dessa verdadeira “revolta dos deserdados”, nas mais variadas significações que a metáfora permite, acaso se exclua de nosso ordenamento jurídico a previsão da legítima, como quota de patrimônio assegurado em igualdade para os herdeiros obrigatórios.
Por esses entendimentos, defender a manutenção da imposição legal da legítima, para além da proteção familiar pelo dever de solidariedade, é contemplar a necessidade de pacificação social ao qual o direito se incumbe.
Em sentido oposto, no entanto, há o entendimento de que esse raciocínio “já encontrou justificativa em sociedades antigas, em que a maior riqueza de uma família era a fundiária”, mas que “não se explica mais nos dias que correm.”. [14]
É o dilema jurídico entre esses dois pontos de vista que será discutido a seguir.
3. DIREITO DE PROPRIEDADE X DEVER DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR
Poderes e deveres sempre correspondem a direitos. No caso em tela, os poderes de fruição, disposição e uso do bem são decorrentes do direito à propriedade, enquanto o dever de solidariedade familiar é oriundo do direito dos familiares (no caso da legítima, os herdeiros necessários) de terem assegurados para si uma parcela do patrimônio acumulado pelo de cujus.
Passemos à explanação acerca dos aspectos desses dois lados contrapostos.
3.1 LIBERDADE DE DISPOR DO PATRIMÔNIO
Uma das manifestações mais claras do direito de disposição do patrimônio – portanto, do exercício do direito de propriedade – pertence à seara do direito sucessório e está capitulada no título III do Código Civil: é o testamento. Por ele, todo aquele que for capaz pode dispor da “totalidade dos seus bens, ou parte deles” para o momento após a morte (art. 1.857, caput, do Código Civil), desde que suas disposições não invadam a “legítima dos herdeiros necessários” (art. 1.857, § 1º, do Código Civil).
Renata Marques Lima Dantas é precisa ao afirmar a importância desse instituto, aduzindo que: “A autonomia privada no direito sucessório brasileiro tem sua manifestação mais expressiva no testamento. Por ele, é possível estabelecer as disposições de última vontade do testador para valerem após sua morte.”[15].
Inegável, portanto, o valor dessa modalidade de sucessão, que apenas resplandece, na sua importância, o próprio valor da autonomia da vontade – exercida, nesse caso, através dos poderes conferidos pelo direito de propriedade.
A utilização de testamento pode dirimir dúvidas e evitar celeumas no procedimento de inventário, além do potencial de abreviar a partilha e, ainda, favorecer um melhor tratamento dos bens deixados pelo de cujus. Seu uso, portanto, deve ser valorizado e incentivado.
3.2 LIMITAÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE
Já famigerado nos discursos jurídicos, a compreensão de que não há direitos absolutos pode ser aplicada aqui, no sentido de compreendermos que a Constituição Federal, ao instituir um amplo rol de valores e princípios a serem perseguidos pelo ordenamento jurídico, previu que houvesse, eventualmente, conflitos entre eles, de modo que deve ser feito um esforço racional para tentar preservar todos os direitos tutelados na maior medida possível.
Ou seja: se, de um lado, há a autonomia da vontade e o direito de disposição do proprietário a ele associado; do outro, existe o dever de solidariedade familiar, bem como várias outras questões polêmicas que foram discutidas no tópico 2.3. deste escrito.
Há dentro da doutrina, como visto, entendimento de que, no caso da imposição da legítima, “essa restrição ao direito do testador implicaria também em afronta ao direito constitucional de propriedade”[16].
Que há um choque entre valores constitucionalmente previstos é inegável. Resta saber se a previsão da legítima pelo legislador é uma das hipóteses de limitação ao direito de propriedade cabíveis diante de nosso sistema jurídico, à luz da Constituição.
Como se sabe, a mesma Carta Magna que assegura o direito fundamental à propriedade também o limita ao estabelecer que esta atenderá a sua função social (art. 5º, XXIII, da CRFB/88).
Há previsão, por exemplo, de expropriação de propriedade na qual se praticava plantio de drogas (art. 243 da CRFB/88) ou mesmo desapropriação de imóvel rural que não cumpra sua função social para fins de reforma agrária (art. 184, caput, da CRFB/88).
Não há qualquer óbice para que o direito sucessório, sobretudo nessa seara que importa tanto à família – “base da sociedade” (art. 226, caput, da CRFB/88) –, também contemple hipóteses de limitação ao direito de propriedade. Resta discutir se, no caso em concreto do debate sobre a legítima, essa é uma medida proporcional, constitucional e, portanto, cabível.
3.3 O CONFLITO DE PRINCÍPIOS NA DISCUSSÃO SOBRE A LEGÍTIMA
A solidariedade é princípio sedimentado entre os objetivos fundamentais da República (art. 3º, I, da CRFB/88). Sua busca não deve se limitar e nem é obrigada a contemplar os membros de uma família, de modo que filantropos podem ter indubitável propensão a ajudar o próximo sem que, para isso, precisem resguardar seus parentes economicamente.
O legislador constituinte previu um dever de assistência recíproco aos pais e filhos (art. 229 da CRFB/88), sedimentando a solidariedade familiar como valor em nosso direito. Assim, é indubitável que esse princípio deve ser protegido pelo sistema legal, de modo a garantir o amparo aos componentes da família.
No entanto, como é sabido, em “muitas hipóteses, a solidariedade familiar pode ser concretizada na proteção financeira a um parente que não se inclua no rol dos herdeiros necessários”[17], de modo que a discussão acerca da legítima permanece. É fato que a Constituição de 1988 buscou impor um dever de resguardo recíproco entre as gerações, mas isso valida tamanha intromissão no âmbito da autonomia da vontade?
Ora, a legítima, tanto quanto arquitetada, representa uma vertiginosa limitação ao consagrado direito de propriedade, que representa um dos maiores matizes da ordem constitucional em vigor. E limitação a ele, portanto, só há de se operar na medida das próprias disposições constitucionais, e em razão delas.[18]
Como visto, o direito de propriedade abriga relativizações atinentes à função social da propriedade. Nesse sentido, é preciso ter em vista não apenas o ideário de amparo familiar, mas, também, a problemática questão envolvendo a possível subjugação dos descendentes, bem como a eventual injustiça de recusar uma reserva do patrimônio do falecido ao herdeiro que nele empenhou seu esforço mas que, por qualquer motivo, do testamento foi excluído.
A pacificação social e a busca por equidade são, certamente, atreladas à função social que deve nortear vários institutos legais (dentre eles a propriedade), de modo que, ao que parece, não há uma óbvia inconstitucionalidade da previsão da legítima – um instituto tão antigo em nosso ordenamento jurídico – como alguns autores propõem.
Sendo assim, cabe, a partir do conflito entre os princípios postos, discutir acerca da conveniência desse instituto, o qual, segundo alguns, restou caduco, ultrapassado, sem atinência com as circunstâncias atuais e às formas de relação social contemporâneas (entre elas a familiar).
Entende o autor desse artigo que, fosse só a questão do dever legal de solidariedade familiar o problema envolvido, pois não restaria, de fato, grandes argumentos para defender a manutenção dessa limitação ao direito de disposição do autor da herança. Contudo, como visto na alegoria da “revolta dos deserdados”, é possível que, com isso, se esteja, a partir de uma correta arguição em defesa de valores tão modernos e iluminados como a autonomia e a liberdade, abrindo as portas para um terreno pantanoso, ensejador de mazelas e fomentador de conflitos.
Como solução alternativa entre os que defendem a abolição – seja pela declaração de inconstitucionalidade ou revogação – e os que arguem pela manutenção do instituto, há uma via, proposta pelos já mencionados professores da Universidade Federal da Bahia, que defende o seguinte:
Poderia, talvez, o legislador resguardar a necessidade da preservação da legítima apenas enquanto os herdeiros fossem menores, ou caso padecessem de alguma causa de incapacidade, situações que justificariam a restrição (…). Mas estender a proteção patrimonial a pessoas maiores e capazes é, no nossos entendimento, a subversão do razoável.[19]
Esse ponto de vista, vinculado à necessidade de assistência intrafamiliar (que decorre do dever de solidariedade), se mostra bastante razoável no sentido de ponderar os valores contrapostos e tentar garantir, ao máximo, a preservação dos princípios antagonizados postos na balança. Apesar disso, a proposta continua sem oferecer uma solução direta para parte dos problemas apontados como possíveis decorrências da exclusão da legítima de nosso sistema legal.
4. CONCLUSÃO
Aspectos apresentados e opiniões contrapostas, resta aos estudiosos do direito apreciarem a questão não apenas como intérpretes da lei, mas tal qual analistas com a missão de concretizar os valores constitucionalmente escolhidos como primordiais, dentre os quais está não apenas o dever de solidariedade familiar, mas também o direito à propriedade e o princípio da autonomia da vontade. A ponderação desses valores deve respeitar a proporcionalidade, visando resguardar ao máximo possível a expressão desses princípios.
É fundamental, ainda, atentarmo-nos para uma espécie de “cegueira iluminista”, que, numa sincera e positiva postura progressista, visa avançar na evolução, superando institutos aparentemente anacrônicos: é preciso realizar, sempre, a prudente tarefa de ponderar o porquê da própria existência de institutos persistentes, como a legítima.
É plausível que certas regras antigas reflitam aspectos de um tempo já deixado para trás, o que torna justa a discussão sobre sua superação, seja por inconstitucionalidade (ou não recepção, a depender do caso), seja por necessidade de revogação. É também possível, no entanto, que esses elementos remanescentes reflitam aspectos intrínsecos às nossas relações sociais e que, como pilares de ruínas antigas e soterradas, só façam sentido se, justamente, forem retiradas, fazendo tombar toda a estrutura.
- REFERÊNCIA
BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos deitos e das penas. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Crella. – 6. ed. rev. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013.
DANTAS, Renata Marques Lima. Autonomia privada no direito sucessório: a necessidade de revisar a permanência da legítima.
DELGADO, Mário Luiz. Chegou a hora de revisitar a legítima dos descendentes e ascendentes. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2018-mai-13/processo-familiar-preciso-revisitar-legitima-descendentes>. Acesso em 16 de março de 2020.
GANGLIANO, Pablo Stolze. O contrato de doação, 3.ed., São Paulo: Saraiva, 2010.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – V.7 : direito das sucessões. 4.ed.. São Paulo: Saraiva, V.6. 2017.
GOMES, Luiz Flávio. Beccaria 250 Anos Depois e o Desmoronamento do Estado de Direito. 2014. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=uPx5sx6SUqc>. Acesso em: 18 de março de 2020.
IFFANGER, Fernanda Carolina de Araújo. Sistema Penal x Sistema Econômico: uma resenha da obra punição e estrutura social. Revista Liberdades – nº 12 – janeiro/abril de 20113. Disponível em <http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=161>. Acesso em 18 de março de 2020.
LIMA, Diego Papini Teixeira; SOARES, Olavo. Breves apontamentos sobre a evolução histórica do instituto jurídico da legítima no direito brasileiro. Disponível em <https://jus.com.br/artigos/69802/breves-apontamentos-sobre-a-evolucao-historica-do-instituto-juridico-da-legitima-no-direito-brasileiro>. Acesso em 16 de março de 2020.
MARTINS,
Thays. Jovens são os que têm mais
dificuldade de conseguir emprego. 2019. Disponível em <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2019/04/03/interna-trabalhoeformacao-2019,746493/jovens-tem-mais-dificuldade-para-conseguir-emprego-e-mais-chance-de-se.shtml>.
Acesso em 18 de abril de 2020.
[1] GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – V.7 : direito das sucessões. 4.ed.. São Paulo: Saraiva, V.6. 2017, p. 33.
[2] GANGLIANO, Pablo Stolze. O contrato de doação, 3.ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 60-63.
[3] LIMA, Diego Papini Teixeira; SOARES, Olavo. Breves apontamentos sobre a evolução histórica do instituto jurídico da legítima no direito brasileiro. Disponível em <https://jus.com.br/artigos/69802/breves-apontamentos-sobre-a-evolucao-historica-do-instituto-juridico-da-legitima-no-direito-brasileiro>. Acesso em 16 de março de 2020.
[4] DELGADO, Mário Luiz. Chegou a hora de revisitar a legítima dos descendentes e ascendentes. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2018-mai-13/processo-familiar-preciso-revisitar-legitima-descendentes>. Acesso em 16 de março de 2020.
[5] Ibid., idem.
[6] DANTAS, Renata Marques Lima. Autonomia privada no direito sucessório: a necessidade de revisar a permanência da legítima. P. 19.
[7] Ibid., p. 20.
[8] BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos deitos e das penas. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Crella. – 6. ed. rev. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013..
[9] GOMES, Luiz Flávio. Beccaria 250 Anos Depois e o Desmoronamento do Estado de Direito. 2014. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=uPx5sx6SUqc>. Acesso em: 18 de março de 2020.
[10] IFFANGER, Fernanda Carolina de Araújo. Sistema Penal x Sistema Econômico: uma resenha da obra punição e estrutura social. Revista Liberdades – nº 12 – janeiro/abril de 20113. Disponível em <http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=161>. Acesso em 18 de março de 2020.
[11] BECCARIA. Op. Cit., p. 90.
[12] Ibid., p. 91.
[13] MARTINS, Thays. Jovens são os que têm mais dificuldade de conseguir emprego. 2019. Disponível em <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2019/04/03/interna-trabalhoeformacao-2019,746493/jovens-tem-mais-dificuldade-para-conseguir-emprego-e-mais-chance-de-se.shtml>. Acesso em 18 de abril de 2020.
[14] GANGLIANO; PAMPLONA FILHO. Op. Cit., p. 34.
[15] DANTAS. Op. Cit., p. 11.
[16] GANGLIANO; PAMPLONA FILHO. Op. Cit., p. 194.
[17] DANTAS. Op. Cit., p. 20.
[18] LIMA. Op. Cit.
[19] GAGLIANO; PAMPLONA FILHO. Op. Cit., p. 34.